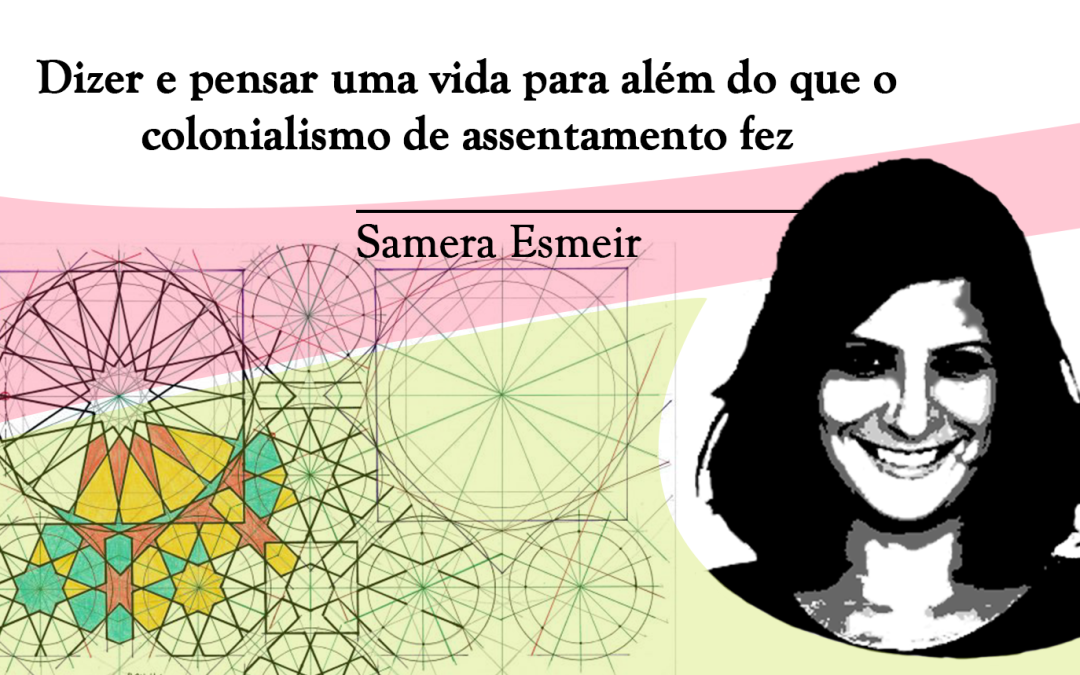Revista Diáspora
Este artigo foi escrito por um colaborador convidado e reflete apenas as visões do autor.
Samera Esmeir
A terra está se fechando nos palestinos em Gaza. Enquanto escrevo essas linhas, Israel continua a bombardear mais de 2 milhões de palestinos, refugiados e descendentes de refugiados confinados à Faixa de Gaza sitiada, que mede meros 365km². Mais de 300 mil soldados israelenses estão se preparando para uma invasão por terra. Israel também ordenou que 1.1 milhão de palestinos se desloquem do norte para o sul da Faixa de Gaza, e estão em andamento esforços diplomáticos internacionais para deslocar os palestinos de Gaza para fora da Palestina – ou seja, para realizar uma limpeza étnica em Gaza. Enquanto isso, a destruição pelo ar se intensifica: devastação, destroços, corpos por baixo e por cima dos escombros. Não há para onde escapar. A faixa é pequena demais, está devastada demais, já inabitável.
Em antecipação à própria morte, alguns palestinos em Gaza estão postando pedidos de perdão para o caso de terem cometido algum erro com alguém. Se nós achávamos que havia um limite empírico para a extensão da destruição israelense em Gaza, devido às restrições de uma estratégica militar, nós podemos ver que tal limite não existe. Quando nós lemos “Eu ordenei um completo bloqueio à Faixa de Gaza. Não haverá eletricidade, nenhuma comida, nenhum combustível. Tudo está fechado. Nós estamos lutando contra animais humanos e estamos agindo de acordo”, nós não estamos ouvindo as palavras de um ministro israelense falando sobre uma estratégia militar que responde a uma situação concreta. Em vez disso, nós estamos ouvindo a voz de uma colônia de assentamento que reafirma sua supremacia sobre o território, afirmando sua supremacia sobre a população indígena palestina. Nós estamos na presença de um conquistador que recusa as revoltas dos conquistados, exigindo que declarem a sua derrota. Nós estamos na presença de um desejo de erradicar palestinos, se não da terra, então da política da terra. Nós estamos na presença de uma campanha que tenta destruir o que escapou da destruição durante e depois das primeiras rodadas de conquista e devastação, rodadas que começaram em 1948. Nós estamos na presença de um desejo colonial-ocupante de obliterar os nativos.
Os sinais de obliteração aparecem primeiro na linguagem. Por isso, Estados civilizados e organizações internacionais, liberais e conservadores, bem como reitores e doadores de universidades nos Estados Unidos todos se alinharam para participar desse discurso. A ordem colonial dessa linguagem é clara: ela não contém nenhuma referência dignificante aos palestinos. Não se trata de uma coincidência. Antes de serem obliterados, os palestinos devem antes ser discursivamente transformados em monstros bárbaros. Esse discurso não deseja apenas criminalizar o Hamas pelas suas ações. Para isso, nós já temos o imaginário jurídico dos crimes de guerra, da acusação e da punição individual. Ao invés disso, o discurso colonial internacional incide sobre algo muito além do que o imaginário legal permite. Ele condena o próprio ser dos palestinos, sua própria existência. Essa ordem do discurso, que o Ocidente (entendido não como um conjunto de Estados ou um lugar, mas sim como um projeto moral que continua a universalizar violentamente a si mesmo) já formulou sobre outros povos colonizados e escravizados, constrói os palestinos como inerentemente culpados. Essa ordem do discurso os transforma em inimigos de todos, um inimigo que se deve esmagar e não com o qual, em vez disso, se deve negociar politicamente. Na medida em que esse discurso, mantido e imposto pelos Estados civilizados e a mídia liberal, engendra a ausência de um mundo para os palestinos, o seu efeito é genocida. Nós sabemos por outras histórias que a linguagem que constrói a distinção entre civilizados e bárbaros é uma linguagem de extermínio.
A produção ocidental da ausência de um mundo para os palestinos é generalizada. Não faltam catálogos dos horrores provocados pelo Hamas, mas não há catálogos semelhantes em relação às ações israelenses. Isso ocorre não por uma impossibilidade de enumerar e catalogar a destruição diária, rotineira e estrutural produzida pelo Estado colonial. Isso ocorre porque a resposta emocional do Ocidente liberal pode invocar o horror apenas em face de atrocidades bastante específicas. O contínuo bloqueio em torno da população palestina cativa não causa consternação. Os repetidos bombardeios não provocam pesar. O bloqueio não incita nenhuma reflexão ética. A violência militar colonial exigida para manter a ocupação da Cisjordânia não provoca preocupação. O que explica essa indiferença ao sofrimento dos indígenas colonizados e o horror diante da dor do colonizador? Por que tais sentimentos são distribuídos de modo tão desigual? Será meramente uma questão de dois pesos e duas medidas? O que, então, explicaria a impressionante consistência dessa dupla moral? Até que ponto essa disparidade radical gera obstáculos para a luta palestina? Será que tantas pessoas de fora de Israel desejam secretamente que a resistência palestina desapareça para que as chamadas tragédias sejam evitadas, a “bagunça” seja arrumada, e a ordem colonial internacional seja restaurada? Não estaria esse desejo pelo desaparecimento da resistência palestina apenas reforçando a gramática da obliteração?
Há muitas respostas para essas perguntas. Uma delas nos leva de volta à guerra de 1967, quando a vitória de Israel sobre os exércitos árabes e a ocupação da Cisjordânia e da Faixa de Gaza foram recebidas, dentro e fora de Israel, como milagrosas e messiânicas.
Houve também o apoio britânico e a facilitação do Estado colonial sionista no século XX.
Há o apoio inabalável dos Estados Unidos a Israel, a profunda afinidade entre a colônia de assentamento no Oriente Médio e as colônias de assentamento das Américas.
Eu quero me concentrar numa outra resposta, uma resposta que se detenha nas atrocidades que geraram a Faixa de Gaza, na destruição que foi indispensável para a criação do território israelense e nas expulsões que foram necessárias para produzir os civis israelenses e o gradual apagamento dos sujeitos palestinos. Parece que agora nós temos as ferramentas críticas para identificar e condenar a desestabilização da categoria jurídico-política de civil, uma desestabilização que permitiu a matança de inocentes, seja no Afeganistão, no Iraque, na Síria ou no Iêmen, para mencionar apenas alguns exemplos recentes. Mas talvez seja necessário pensarmos mais sobre a fabricação da figura do civil e da noção da normalidade civil, as condições territoriais e discursivas que contribuem para cultivar vidas civis, e a distribuição desigual de tais condições. Eu argumento que a conquista e a territorialização realizadas pela colônia de assentamento não são meramente contexto dos acontecimentos atuais, mas forças que produzem e estabilizam categorias específicas, incluindo a categoria do civil. Há poder envolvido no fazer e desfazer da figura do civil, não apenas em ser o alvo da violência. Na Palestina, esse poder é um exercício de territorialização do colonialismo de assentamento, uma vez que está interligado com a contínua remoção, matança e cerco de palestinos.
Permitam-me desenvolver esse ponto retornando à Faixa de Gaza, o espaço de renovadas tentativas de obliterar os palestinos e territorializar um Estado sionista chamado Israel. Vamos relembrar que a Palestina não tinha uma área chamada Faixa de Gaza antes de 1948. Havia, no entanto, uma área muito maior chamada Distrito de Gaza. Durante a guerra de 1948, as forças sionistas conquistaram a maior parte do Distrito de Gaza, destruíram 49 vilas e deslocaram à força a população. Apenas 365km2 foram poupados da conquista. Colocado sob domínio administrativo do Egito, esse pedaço de terra ficaria conhecido como Faixa de Gaza e receberia 200 mil refugiados palestinos que viriam a habitar oito campos de refugiados. Em 1950, Israel removeu quem vivia ao redor dos campos no território que agora era seu, despovoou a vila palestina de Madjal e começou a cercar a faixa, colocando assentamentos para delimitar e fechar a fronteira. Esses assentamentos foram o terreno dos eventos dessa semana. Já naquela época, os palestinos tentaram retornar às suas casas e terras. Eles também tentaram ataques armados contra os assentamentos construídos nas terras dos refugiados.
Para manter seu domínio territorial de assentamento, Israel promoveu mais violência. Em 1953, por exemplo, uma grande operação militar foi iniciada e Israel massacrou cinquenta pessoas. Em 1956, Israel ocupou a Faixa pela primeira vez. Em Khan Yunis, os soldados detiveram e executaram centenas de palestinos. Em 1967, Israel ocupou a Faixa de Gaza de novo e ficou como ocupante de terras até se tornar um sitiador. Ao longo dessa história, Israel implantou um rol de medidas de pacificação contra a luta anticolonial dos palestinos em Gaza: prisões sistemáticas, demolição de casas, pressão econômica e deportações; rebeldes foram detidos e dezenas foram sumariamente executados. Desde então, os campos de Gaza, mesmo depois de 16 anos de bloqueio, continuam a ser o coração da resistência contra o que o Estado colonial quer impor como um cerco predestinado e eterno.
Em outros lugares da Palestina, operações militares de assentamento semelhantes asseguraram a criação do território israelense onde antes ele não existia, resultando na extrema desterritorialização da Palestina – ou seja, sua destruição. Por exemplo, apesar da destruição generalizada e a expulsão em massa em 1948, aproximadamente 160 mil palestinos permaneceram nas terras onde o território de Israel foi estabelecido. Logo, eles seriam submetidos a um regime militar. Planos foram postos em prática para restringi-los, confiscar seus meios de sobrevivência, e impedi-los de chegar a seus campos. Munição real foi usada para evitar a chamada “infiltração” de palestinos que queriam retornar dos lugares onde estavam refugiados através das linhas do cessar fogo. Massacres foram cometidos. Buscou-se judaizar a Galileia. Desde então, muitas outras práticas e estruturas do colonialismo de assentamento, caracterizadas pelo cercamento, a remoção e o estabelecimento de fronteiras, continuaram a confinar os palestinos, restringindo-os a pequenos pedaços de terra e disponibilizando o restante da terra aos israelenses. Daí as centenas de checkpoints que resultam em centenas de comunidades cercadas e fragmentadas de palestinos na Cisjordânia.
Eu trago esses gestos históricos não para fornecer um contexto histórico para os acontecimentos recentes, mas para proporcionar uma consideração de como os modos de criação do território israelense e dos civis estão entrelaçados. Uma vez que o Estado sionista foi capaz de demarcar suas fronteiras, fortificá-las com assentamentos e colonos armados, uma vez que foi capaz de territorializar a si mesmo pelo despovoamento das vilas e cidades palestinas, destruindo-as, impedindo o retorno dos refugiados palestinos, e recrutando judeus de todo o mundo para povoar os novos assentamentos, uma vez que fez tudo o que estava se tornando ilegítimo em outros lugares no mundo em processo de descolonização, pôde então começar a materializar a figura do civil e a ideia de normalidade civil, transformando-as como ferramentas utilizadas como condições no terreno a ser defendido. Em nome dos civis e de sua proteção, poderiam ser cometidas atrocidades.
Fundamental para essa noção de normalidade civil é sua condição territorial-institucional de possibilidade: uma forma forte de Estado com território contínuo e fronteiras fortificadas. Israel obteve isso. Adquiriu essa forma de Estado à força dos palestinos. Essa forma de Estado tem instituições: um exército profissional permanente, uma força policial, um ministério do interior, um registro de cidadãos e um ministério da defesa. Essas são apenas algumas das instituições que produzem e reproduzem a distinção entre civis e combatentes. Mesmo o serviço militar nacional é obrigatório para todos os cidadãos judeus israelenses, com apenas algumas exceções. A condição de possibilidade para essas instituições é a exclusão dos palestinos – em termos de entrada do país, direitos de residências, reunificação familiar, acesso à terra assim por diante – sua supressão, remoção, policiamento e cercamento. Essas instituições promoveram uma sociedade civil israelense, uma postura civil, uma pluralidade civil – e normalidade civil. O colono, a exata figura através da qual procederam tanto a territorialização do Estado sionista de Israel e a despossessão e remoção dos palestinos, também se transformou em civil.
A ocupação da Cisjordânia e da Faixa de Gaza em 1967 foi central para a criação da normalidade civil israelense. Os “territórios ocupados” sempre foram o terreno para liberar o poder militar israelense, evitando assim que a violência da ocupação interferisse na vida civil normalizada de Israel. Lá, atrás da linha verde, Israel conduziu o “conflito”. Quanto mais violência colonial-militar houver na Cisjordânia e em Gaza, maior normalidade civil haverá em Israel, e mais a noção de normalidade civil poderá ser usada como uma arma para justificar mais violência na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Mas as operações purificadoras e normalizadoras da linha verde nem sempre ocorreram sem contestação. Os palestinos sempre entenderam que a condição de possibilidade para essa normalidade civil, dentro da linha verde, era a destruição da existência palestina na terra e a proibição de seu retorno à terra. Portanto, sempre houve violações do confinamento e operações para desfazer a fronteira: o que os palestinos chamam de “retorno”.
Enquanto isso, a reivindicação a de um status civil ou de uma normalidade civil por parte dos palestinos encontrou muitos desafios. A sociedade palestina foi destruída em 1948. Os territórios ocupados em 1967 foram propositalmente fragmentados, desconectados e separados por assentamentos. Não há forma estatal, exército permanente, extensão territorial, ou postura civil. Ao invés disso, há muitos campos de refugiados, famílias despossuídas e sujeitos em luta. Tudo o que poderia cultivar uma normalidade civil já está sendo visado pela ocupação israelense, desde casas e escolas até ONGs, centros culturais e universidades. Comparada ao outro lado da linha verde, a vida na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, recipientes da violência contra os palestinos, não pode manifestar normalidade civil.
Mas há mais. O ethos civil, como uma questão de sensibilidade liberal, requer inocência, passividade política, ausência de movimento e fixidez. Aos olhos do Ocidente civilizado e liberal, os civis precisam ser pacificados, passivos e sem culpa, e devem rejeitar a rebelião. Os palestinos como refugiados, como sujeitos engajados e resistentes, como sujeitos que olham na direção da terra da qual foram expulsos e aspiram a se mover nessa direção, e como pessoas que desejam não se acomodar em um confinamento, não passam no teste desse ethos liberal. Sua recusa justa ao confinamento, a rejeição firme do confinamento, e a esperança não desesperada de retornar à terra da qual foram expulsos violam esse ethos liberal. Os seus sonhos e aspirações os tornam, aos olhos daqueles que valorizam a normalidade civil, apesar do seu pesado custo sobre outros, obliteráveis. Portanto, não se deve sentir nada diante do seu extermínio. Muito pelo contrário. Em nome da normalidade civil, os não-civis devem ser obliterados.
Por um lado, então, nós temos um Estado com um dos mais avançados exércitos da face da terra, um Estado que, ao invocar as violações da normalidade civil, pode mobilizar as forças militares de obliteração com o apoio da maioria dos membros da comunidade internacional. A dor dos civis deste Estado é legível e capaz de provocar horror. Por outro lado, nós temos um povo palestino colonizado, ocupado e desterritorializado, sem um exército permanente, como um pequeno terreno de manobra, que, por se atrever a resistir à devastação da colonização de assentamentos, não tem nenhuma normalidade civil para invocar e se utilizar como arma. Sua luta suscita pouco apoio internacional. Por um lado, nós temos um Estado colonial de assentamentos auto-territorializado, construído através da limpeza étnica da terra, que opera operações extraterritoriais destrutivas para reterritorializar a si mesmo contra aqueles que continua a expulsar e a confinar; suas operações são internacionalmente endossadas e fortificadas militarmente. Por outro lado, nós temos um povo expulso e confinado, persistindo sob condições extremas de desterritorialização e obliteração, tentando criar uma abertura na terra chegando até ela a partir do limite do território; tais pessoas estão condenadas.
Essa é nossa cruel ordem internacional com seu sagrado mandato territorial e regime de normalidade civil. Talvez seja hora de nós – aqueles de nós que não jogam o jogo dos Estados – pararmos de compartilhar, contestar ou solicitar algo do discurso colonial internacional, parar de afirmar seus direitos e reivindicações, seus termos e suas formas. Somente assim poderemos começar a tornar legível uma vida que inevitavelmente luta contra o domínio dos colonizadores sobre a terra, que inevitavelmente busca desfazer fronteira e inevitavelmente recusa as condições de confinamento e privação necessárias à normalização da colônia de assentamentos. Comprometer-se com essa vida além da territorialização e da normalidade civil é criar uma abertura na linguagem, na política e na ética, uma abertura além da cartografia colonial e da ordem internacional que a permite.
Eu agradeço a Reem al-Botmeh, Basit Kareem Iqbal, e Ramsey McGlazer por seus comentários sobre esse ensaio. Também sou grata pelas discussões coletivas que tive com Helen Kinsella e Murad Idris sobre a questão dos civis.
Para saber mais:
Sobre as autoras:
Samera Esmeir é professora associada de Retórica na Universidade da Califórnia, Berkeley. Em sua pesquisa e atuação como docente, ela trabalha na interseção entre o pensamento jurídico e político, a história do Oriente Médio e os estudos coloniais e pós-coloniais. Sua investigação concentra-se principalmente no modo como o colonialismo da era tardia, com ênfase especial no Oriente Médio, introduziu lógicas e gramáticas jurídicas liberais. Abordando o contexto do Egito colonial, seu livro “Juridical Humanity: A Colonial History” (2012, Stanford University Press) analisa como os poderes jurídicos coloniais reconfiguraram o conceito do humano durante a era colonial tardia. Além disso, Samera tem trabalhado em uma série de ensaios que se concentram na Palestina como espaço de reinterpretação de conceitos centrais para o pensamento jurídico e político.
Tradução:
Jamille Pinheiro Dias é professora de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos na Universidade de Londres. Também atua como tradutora.
Helena de Morais Manfrinato Othman é doutora em Antropologia Social pela
USP e pesquisadora associada do Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento (CEBRAP).